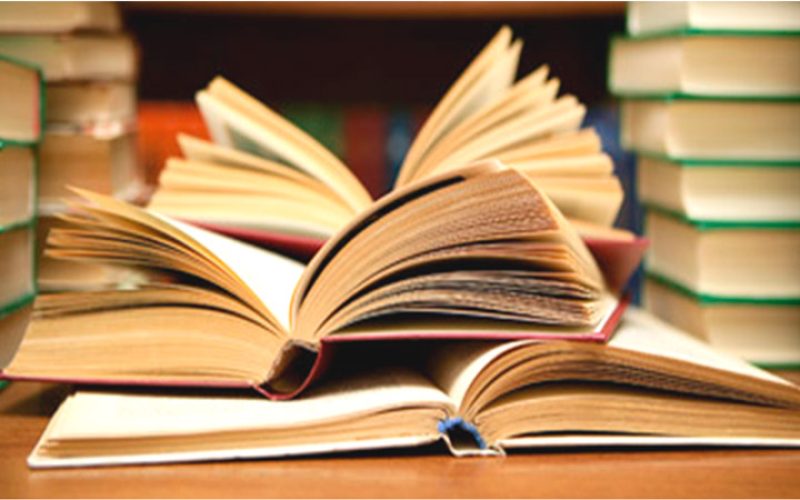Uma cena se repete nas salas de aula. Um aluno do ensino médio formal pergunta ao professor, em gesto de genuína curiosidade: Por que eu preciso aprender literatura[1]? A situação mencionada poderia estar descrita, neste iniciado artigo, como um relato documentado. No entanto, dada a sua frequência em muitos testemunhos docentes, tomemo-la como genérica e impessoal. O que diria o anônimo professor a um aprendiz em pleno exercício de questionamento? Antes de pronta a resposta, é exigível cautela, uma investigação acerca do que aqui chamaremos de pedagogia literária, ou seja, a literatura enformada como um conteúdo escolar.
É necessário olhar o umbigo da disciplina literária, seus livros didáticos, leituras obrigatórias para quem e quando, ditados e apostilas organizadas em caraterísticas e nomes pertinentes a cada “escola literária”, métodos categóricos de conceituação e arquivamento, enfim, um programa que se aplica em sala de aula com a finalidade de supostamente atribuir um caráter científico aos estudos de uma forma de arte.
As circunstâncias que envolvem os estudos literários não estão dissociadas de uma concepção pedagógica do pensamento científico, arraigada à corrente filosófica positivista do século XIX, que subordina(va) o conhecimento à observação e ao descritivismo. Em Os sete saberes necessários à educação do futuro, Edgar Morin (2000) defende que a visão excessivamente pragmática da ciência e da aquisição do conhecimento, cega na ilusão das certezas, secundarizou os saberes subjetivos, ignorando o “inesperado” e as “incertezas do conhecimento” (pp.30-31) como dados inteligíveis e enriquecedores para a formação dos sujeitos aprendizes. Em contrapartida, as próprias ciências chamadas exatas, em face das imprevisibilidades do novo milênio (ou ainda no fim do século XX), passaram a ver suas convicções serem derrubadas e a se questionar sobre a hipótese das “verdades”. A esse respeito, Boaventura de Sousa Santos (2004, p. 97) afirma:
Ficou explícito que saber não era só conhecer astronomia, física, matemática, química, biologia; no momento em que esses próprios saberes necessitaram, unidos a outros, de respostas as quais não encontravam. O esgotamento da epistemologia totalitária da modernidade encontra-se exatamente nela mesma e em suas ilusões e erros.
Nesse sentido, pensadores contemporâneos se empenharam (e ainda o fazem) na derrubada de um muro que ameaça limitar o conhecimento nas escolas. Reconhecendo a incontinência dos saberes e a precariedade de um estudo pautado unicamente no acúmulo de informações, iniciaram um debate que visa à reestruturação do ensino (sobretudo no que diz respeito aos trabalhos com a linguagem escrita e às análises literárias). A ideia possui duas grandes frentes: Em primeiro lugar, combater a divisão disciplinar como método de encarceramento epistemológico. O conhecimento não se submete às barreiras que o separam em matérias escolares, incomunicáveis gaiolas acadêmicas. Contra esse mal, foram desenvolvidos conceitos como interdisciplinaridade e transdisciplinaridade[2] – cuja distinta prefixação propõe maneiras diferentes de se pensar na ruptura dos limites programáticos da tradição educacional.
Além do intercâmbio disciplinar, pensou-se a própria delimitação dos conteúdos escolares como uma simplificação na aquisição dos conhecimentos, contra aquilo que Edgar Morin chamou de “pensamento complexo” (2005). Na medida em que “a totalidade é a não-verdade” (ADORNO Apud MORIN, 2005, p.7), torna-se necessário ampliar os estudos para aquilo que não se apreende, não cabe nos livros didáticos, transborda para além das salas de aula, ultrapassa a geometria das escolas em busca de um mundo a saber. O aprendizado é também o porvir e o incompreensível. Também se devem conhecer as contradições, o intangível e o indesejado. “O pensamento simplificador é incapaz de conceber a conjunção do uno e do múltiplo. Ou ele unifica abstratamente ao anular a diversidade, ou, ao contrário, justapõe a diversidade sem conceber a unidade” (ibid, p.12).
A proposta, ainda hoje um desafio à tradição pedagógica, não é de negação, mas de complementaridade. Não se trata, portanto, de negar as disciplinas, mas pô-las em movimento, para que não cristalizem e se tornem áreas impróprias ao plantio e à frutificação. Nas palavras do teórico supracitado,
Para a educação do futuro é necessário promover grande remembramento das ciências naturais, a fim de situar a condição humana no mundo, dos conhecimentos derivados das ciências humanas para colocar em evidência a multidimensionalidade e a complexidade humanas, bem como integrar (na educação do futuro) a contribuição inestimável das humanidades, não somente a filosofia, a história, mas também a literatura, a poesia, as artes (MORIN, 2000, p.46).
No que se refere aos estudos literários na escola, as lições de transdisciplinaridade e de complexidade devem ser pensadas em sintonia com a indagação hipotética (embora verídica) de um aluno, proposta no início deste texto. O sentido da pedagogia literária precisa ser considerado para que se faça uma reflexão dos procedimentos pedagógicos a serem utilizados pelo professor no trabalho de conhecimento e discussão das literaturas nacional e estrangeiras. Em outras palavras, o modo de ensinar deve estar atrelado às razões para fazê-lo. Seria satisfatória a transmissão do conhecimento enciclopédico acerca das produções literárias? Conhecer as literaturas deve corresponder unicamente à localização de obras escritas no tempo e no espaço?
Em uma produção audiovisual sobre literatura portuguesa, produzida para a RTP pela jornalista Inês Fonseca Santos (2008), o professor doutor António M. Feijó, quando indagado a respeito do modernismo (matéria principal do vídeo), responde: “O modernismo é uma etiqueta, uma espécie de gaveta onde se põem coisas. Normalmente, quando temos uma etiqueta ou um nome, nós tendemos a atribuir a esse nome ações”. E conclui: “O modernismo, tal como o romantismo, são categorias de historiadores”. Evidentemente, sem negar que haja afinidades estéticas (e éticas) entre as produções escritas no início do século XX por artistas intelectuais portugueses, a contribuição do professor, na abertura do vídeo, é a de que, em pleno século XXI, se devem pensar as escolas literárias também como se não as houvesse, desconfiar de seus estatutos, romper as correntes que as mantêm em celas.
Assumindo a declaração de Feijó como uma provocação à pedagogia, deve-se entender a missão do professor da disciplina literária não como a de alguém que leva a literatura (objeto) para a sala de aula, mas a de um sujeito que conduz seus alunos (outros sujeitos) ao espaço da criação artística. Assim, será necessário transcender, sem negar, as formas consagradas de classificação da produção literária. Os tempos literários não são invenções de críticos, existem na forma de aproximações, mas há dinâmica entre eles. Isso ocorre porque o objeto artístico não está estático, ele próprio não existe sem que seja manuseado pelo observador-leitor, que o transforma. Nas palavras de Roland Barthes (1987, p.24), “Na cena do texto não há ribalta: não existe por trás do texto ninguém ativo (o escritor) e diante dele ninguém passivo (o leitor); não há um sujeito e um objeto”.
Assumir a complexidade nas situações didáticas que envolvem a literatura (o mesmo se aplica às demais disciplinas, mas deixemo-las por ora) exigirá do professor uma postura desarmada de seu condão do saber, um destronamento que lhe retira o posto de “senhor da razão” e lhe confere o título, aparentemente rebaixado, de leitor-maduro[3] à frente na condução dos aprendizes. Não se trata de retirar poder da docência, mas – ao contrário – reposicionar funções e métodos no ensino literário, de modo a redefinir o papel do professor. Afinal, o aprendizado da arte literária não pode se submeter a um doutrinamento e a um dogmatismo que contrariam as próprias noções de concepção criadora e de recepção artística. Conforme define Antoine Compagnon (2001, p. 144),
O leitor é livre, maior, independente: seu objetivo é menos compreender o livro do que compreender a si mesmo através do livro; aliás, ele não pode compreender um livro se não se compreende ele próprio graças a esse livro.
Em resumo, o teórico defende que “a leitura tem a ver com empatia, projeção, identificação” (COMPAGNON, 2001, p.143). Eivada de subjetividades, das quais nenhuma análise se valerá com a pretensão de contingência e de totalidade, a literatura só poderá ser apoderada como um objeto difuso, um corpo aberto, um palco para muitas atuações. Qualquer tentativa de cientificar o objeto literário deverá levar em conta a intangibilidade e a versatilidade como variáveis equacionadas. O texto literário é tão amplamente potente em termos de significação quanto o é a própria linguagem, pois – a saber – antes de objeto de arte ou produto editorial, ele é também uma expressão linguística. Nas palavras de Lidia Leite (1988, p. 12):
O texto literário […] não só exprime a capacidade de criação e o espírito lúdico de todo ser humano, pois todos nós somos potencialmente contadores de histórias, mas também é a manifestação daquilo que é mais natural em nós: a comunicação.
Para uma compreensão aprofundada dessa discussão, julgamos oportuno convocar mais uma vez Roland Barthes, especificamente naquilo que defende a respeito do que optamos denominar pedagogia literária. Em Aula (1997), publicação que apresenta uma explanação no Collège de France [1977], na data de abertura da cadeira de semiologia literária, o teórico apresenta uma visão essencialmente orgânica do objeto literário, determinada pela percepção:
Entendo por literatura não um corpo ou uma sequência de obras, nem mesmo um setor de comércio ou de ensino, mas o grafo complexo das pegadas de uma prática: a prática de escrever. Nela viso portanto, essencialmente, o texto, isto é, o tecido dos significantes que constitui a obra (op.cit., p.16).
Dito de outra forma, está na complexidade comunicativa da obra literária a chave para todo e qualquer esforço interpretativo – este deve ser o exercício de cada leitor e especialmente de um condutor de novos leitores, um professor na missão de orientar a recepção da obra, de modo a apontar as senhas depositadas na escrita, sem contudo impedir a eclosão de sentidos despertados pela subjetividade daquele que lê.
A ideia será desenvolvida e revista por Umberto Eco (1986), principalmente quando o teórico repensa (sem negar) aquilo que definiu como Obra Aberta (1981), voltando-se especificamente sobre a leitura do texto literário:
Quando publiquei o meu trabalho Obra aberta, eu me perguntava como é que uma obra podia postular, de um lado, uma livre intervenção interpretativa a ser feita pelos próprios destinatários e, de outro, apresentar características estruturais que ao mesmo tempo estimulassem e regulamentassem a ordem das suas interpretações (ECO, 1986, introdução).
Na sequência de suas reflexões, Eco conclui:
O texto está, pois, entremeado de espaços brancos, de interstícios a serem preenchidos, e que o emitiu previa que esses espaços e interstícios seriam preenchidos e os deixou brancos por duas razões. Antes de tudo, porque um texto é um mecanismo preguiçoso (ou econômico) que vive da valorização de sentido que o destinatário ali introduziu (…) Em segundo lugar, porque à medida que passa da função didática para a estética, o texto quer deixar ao leitor a iniciativa interpretativa, embora costume ser interpretado com uma margem de univocidade. Todo texto quer que alguém o ajude a funcionar (ECO, 1986, p.37).
É inegável, pois, que o “leitor se encontra definitivamente no texto, ou seja, no mundo do texto” (ISER, 1996, p.76). Sendo assim, o trabalho de desenvolvimento da leitura não pode ignorar os aspectos individuais e sociais que circundam o tempo e o espaço do(s) leitor(es). Como um reforço para essa ideia, na compreensão específicas das situações em sala de aula, são esclarecedoras as conclusões do professor William Roberto Cereja (2005, p. 53), resultantes de uma pesquisa sobre o ensino da literatura na escola secundária:
[A] expectativa do aluno é que o ensino de literatura se torne significativo para ele, ou seja, possibilite o estabelecimento de nexos com a realidade em que ele vive, bem como de relações com outras artes, linguagens e áreas do conhecimento.
A noção de que a recepção literária, dentro ou fora das escolas, deveria estar integrada às experiências dos leitores – tanto nas particularidades de suas vidas íntimas, quanto na dimensão social que é própria de cada sujeito – pode parecer óbvia para os teóricos da filosofia e da pedagogia, mas ainda é uma distante realidade nas escolas. São comuns relatos de alunos sobre o estudo sistemático de épocas literárias, cada uma representada por listas de características do período, obras e autores de referência. Para comprovar o que afirmam, nem é necessário introduzir uma câmera espiã nas aulas de literatura, basta um exame criterioso nos livros didáticos e apostilas aplicados nas mais variadas escolas do país.
Em contato com alunos do ensino médio de diversas escolas particulares da cidade de Niterói, nas aulas do Curso Palavra Mágica, tenho testemunhado com frequência depoimentos queixosos sobre a inaplicabilidade dos estudos literários nas situações da vida pessoal e coletiva. Em nossas reflexões, costumamos propor uma indagação: Mas se a literatura é o registro de vidas íntimas e/ou sociais, como isso é possível? As respostas têm sido reveladoras sobre o quadro disciplinar das literaturas. Recentemente, uma aluna nos revelou uma situação ilustrativa: “Estávamos lendo Brás Cubas”, disse, encurtando o título de Machado de Assis (1881), “comentei com meu professor que o personagem do livro me fez pensar no meu pai, sempre sonhando com meios e inventos para ficar famoso”. A resposta do mestre, de acordo com o seu relato, foi como uma faca a cindir o elo entre o livro e a vida: “Machado de Assis não escreveu sobre você!”
Outro jovem deu um depoimento sobre um trabalho que apresentou na escola após a leitura de O cortiço (1890), de Aluísio Azevedo. “Meu grupo fez um vídeo com moradores de uma favela, depois escrevemos um funk falando que a pacificação tornou mais cara a vida no morro, afastando os mais pobres”. Nesse caso, segundo o aluno, também não havia espaço para o diálogo entre a obra e o mundo: “Nossa professora não aceitou o trabalho, primeiro porque disse que não analisamos o enredo do livro e, além disso, reclamou que não falamos nada sobre a animalização, que era o principal do período naturalista”.
Os dois casos somam-se a muitas situações semelhantes que confrontam os profissionais da pedagogia literária, forçando-os para além (ou apesar) de seus scripts. Prisioneiros de um roteiro por onde pretendem guiar os leitores pelas linhas literárias, muitos professores acabam por minar possíveis caminhos de leitura e de deleite da arte escrita. Aos aprendizes, imprime-se – com a equivocada condução – a lição enganosa de que estudar literatura é tão somente aprender (talvez a palavra mais adequada fosse “decorar”) uma correspondência entre obras e características das escolas literárias nas quais estão enquadradas por razões históricas, rigorosos vieses por onde se deve lê-las, como tábuas sagradas gravadas na pedra.
O voo literário é (ou deve ser) uma aventura, incumbindo seu comandante de uma grande responsabilidade. É preciso aceitar o improviso no caminho, apontar as direções do texto sem contudo impedir que cada um faça a sua viagem particular. Os diálogos possíveis presentes na literatura, que vão da produção à leitura, atravessam não apenas subjetividades, mas também atingem muitas áreas do conhecimento, saberes específicos de uns ou de outros. Afirma Barthes (1997, p.17) a respeito:
A literatura assume muitos saberes. Num romance como Robinson Crusoé, há um saber histórico, geográfico, social (colonial), técnico, botânico, antropológico (Robinson passa da natureza à cultura). Se, por não sei que excesso […] de barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina literária que devia ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário.
O caráter multidisciplinar do texto literário é a sua credencial para além de qualquer cerco que impeça a proliferação de sentidos. Dessa forma, não há por que e nem como se possa negar conexões havidas entre a obra e o mundo circundante, não apenas do autor em seu tempo-espaço de produção, mas de todo e qualquer leitor quando de posse do livro. A literatura tem força para traduzir a humanidade e as sociedades humanas, logo, recortá-la como a expressão única de um retrato social incomunicável com o mundo é mutilá-la na sua potência multiplicadora, que é a perpetuação de toda arte.
Permitam-me, neste ponto, um relato pessoal. Certa vez, apresentei em Nova Friburgo (RJ), em um curso de pós-graduação em Letras e História, o poema Grito negro, do autor moçambicano Craveirinha, cuja conotação racial aponta como viés aparentemente fixo para o seu entendimento, através da exploração do carvão. Após a leitura em voz alta, foi possível notar um homem loiro, de olhos azuis, visivelmente emocionado no canto da sala, as lágrimas a escorrerem dos olhos. Sem que fosse preciso pedir para que ele se explicasse, o aluno, que depois se revelou militante do partido comunista, justificou seu choro: “É assim que eu me sinto: um carvão explorado pelo meu patrão”. A exploração humana – dizia, em outras palavras – não tem cor, terreno e nem idioma, ela própria é uma linguagem: gestual, comportamental, social, humana. Aquilo que Craveirinha, assim como Agostinho Neto, Luandino Vieira, Pepetela e tantos outros representam de seus solos africanos se universaliza: são retratos do mundo exploratório que a humanidade conseguiu produzir em toda a parte.
A situação anteriormente narrada serve como foco para a discussão proposta neste artigo. Quando se sugere a ampliação dos sentidos evocados pelo objeto literário, não se está negando aquilo que lhe é próprio. Evidentemente, ao professor incumbe também a tarefa de esclarecer os elementos da enunciação, elucidando aquilo que poderíamos chamar de evocação original ou, com mais propriedade, as senhas autorais. A questão é que há um debulhar de ideias que são desencadeados a partir da origem (e muitas vezes apesar delas). Como não se podem conter os fluxos originados desde a nascente de um rio, igualmente são incontornáveis os caminhos que se fazem na torrente literária.
Com apoio teórico, o que se pode afirmar é que, muito embora a literatura seja “uma construção de objetos autônomos com estrutura e significado” (CANDIDO, 2004, p.176), as experiências do leitor, bem como as circunstâncias do seu tempo-espaço, sempre desafiarão a ordem literária – e essa é a grandeza da arte. Afirma Adorno (2003 , p.17) sobre esse ponto: “Quem interpreta, em vez de simplesmente registrar e classificar, é estigmatizado como alguém que desorienta a inteligência para um devaneio impotente e implica onde não há nada para explicar”. O procedimento desalinha uma suposta diretriz de leitura que buscaria “destrinchar a obra em busca daquilo que o autor teria desejado dizer em dado momento” (ibid., p.17). Ao contrário disso, “a pletora de significados encapsulada em cada fenômeno espiritual exige de seu receptor, para se desvelar, justamente aquela espontaneidade da fantasia subjetiva que é condenada em nome da disciplina objetiva” (ibid., pp.17-18).
A agitação de sentidos, entre aqueles que o autor depositou na escrita e os que podem ser “reescritos” pela natureza subjetiva da recepção, é não apenas produtiva para as análises literárias, mas própria delas. É natural que o leitor, mormente um aprendiz de leitura, entenda-se antes de entender o autor, traduza sua vida e a sociedade em que vive para assim acessar o universo representado pelo escritor em dada situação histórica. A ruptura abrupta de tal processo gera um afastamento entre o sujeito da leitura e a obra, provocando uma distância intransponível entre ambos, a impedir até mesmo a observação do escrito, que dirá suas entrelinhas.
Um fosso artificial entre livros e leitores produzirá a questão inaugural deste artigo, mote para as discussões que aqui se fazem: “Por que estudar literatura?” ou, nas palavras de um pensador, Literatura para quê? O título de Compagnon (2009), já citado em nota no começo do texto, ressurge a cada vez que se pensa a literatura como objeto pedagógico. As respostas filosóficas do professor e teórico belga sobre o sentido da literatura podem ajudar na busca de novos rumos para uma pedagogia literária. Em primeiro lugar, elenca o autor ordenadamente, “a literatura deleita e instrui” (op.cit., p.30). Não se deve subtrair dos estudos literários o que Barthes chamou de “prazer do texto” (1987). Além disso, há uma potência na literatura para o aprendizado, em informações disponíveis (históricas, por exemplo) a serem assimiladas e na formação ética e moral de um sujeito leitor a captar a ordem do mundo ficcional.
Prossegue o teórico, a indicar um segundo aspecto dos estudos literários: “A literatura, instrumento de justiça e tolerância, e a leitura, experiência de autonomia, contribuem para a liberdade e para a responsabilidade do indivíduo” (COMPAGNON, 2009, pp.33-34). Neste caso, põem-se em evidência a condição de luta da obra literária, tantas vezes feita arma de consciência e mobilização. Há pouco, citamos vozes africanas proferidas contra o poder colonial português. Não se pode ignorar tão pouco a investida do modernismo brasileiro contra um imperialismo cultural, bem como a importância do romance regionalista de 30 na denúncia das desigualdades e injustiças em um país de concentração de renda e de privilégios sudestinos. Há inúmeras obras na literatura mundial que atestam para o potencial revolucionário da arte verbal.
Por fim, o autor alerta para o poder democrático da literatura, na medida em que ela “fala a todo mundo, recorre à língua comum, mas ela faz desta uma língua particular – poética ou literária” (ibid., p.37). As variantes da linguagem, seja do ponto de vista regional, etário, social ou sob demais variáveis, se fazem representar na obra literária, evidentemente mediadas ou limitadas pelo domínio do autor. O plurivocalismo de que trata Bakhtin (1990), em sua teorização sobre a linguagem na ficção (especialmente o romance), alcança a expressão democrática, sobretudo em países onde há grande diversidade linguística, algumas evidentemente menos prestigiadas que outras.
Reunindo as definições de Compagnon sobre o papel ou a força da literatura na vida humana e nas sociedades, tem-se um norte para os estudos literários. É preciso preservar o prazer da leitura, seu deleite. O jogo artístico convida o expectador ao universo da fantasia, mesmo quando há verossimilhança, um faz-de-conta que é parte de um pacto do autor com seus receptores. Também se deve apropriar do texto literário para discutir a vida, nos infindáveis planos pessoais e nos arranjos sociais, o ético e o estético, mensagem e linguagem, na potência desta que se multiplica. A literatura transforma, atravessa os tempos, rompe o limite dos espaços, une o inconciliável e separa o indivisível. Enfim, “[a] literatura é um exercício de pensamento; a leitura, uma experimentação dos possíveis[…], visando menos a enunciar verdades que a introduzir em nossas certezas a dúvida, a ambiguidade e a interrogação (COMPAGNON, 2009, p.52).
Ao professor, cabe a tarefa de abrir livros sem fechá-los. Não se deseja e nem se indica que se rasguem os materiais didáticos e as teorias literárias feitas ao longo dos tempos. O desafio é abrir portas, para que o já dito sobre a arte literária dialogue com o que se tem a dizer. A aula de literatura deve ser um passeio rumo ao infinito. Diferente de um tutor que tem a missão de ensinar pontos de um a dez, a transmitir determinados conteúdos, o mestre literário deve lidar com o incontável e o incontível. Sua missão é provocar uma inundação de sentidos, entre os havidos e o porvir, o consagrado e o inusitado, o histórico e o atemporal, o localizado e o universal.
Os mestres em sala, contudo, nem sempre têm poder para transformar a didática que trata da literatura. Limitados pelas exigências curriculares e pelo urgência escolar no cumprimento dos ementas disciplinares, muitos docentes são envolvidos na máquina educacional, ainda que a questionem permanentemente. A grande mudança no ensino é sistêmica e estrutural. Será necessário reformar os conteúdos programáticos e, para tanto, mover as estruturas do ensino tradicional.
As pesadas estruturas resistem às mudanças. Além de toda a teoria filosófica e pedagógica sobre mudanças no ensino-aprendizagem, representada por pensadores convocados neste texto, as próprias determinações governamentais apontam na direção aqui proposta. Os novos Parâmetros Curriculares Nacionais (2000) preveem que, na nova mentalidade do aprendizado da língua portuguesa,
os conteúdos tradicionais de ensino de língua, ou seja, nomenclatura gramatical e história da literatura, são deslocados para um segundo plano. O estudo da gramática passa a ser uma estratégia para compreensão/interpretação/produção de textos e a literatura integra-se à área de leitura (BRASIL, 2000, p.18).
Isso se deve ao fato de que “ [a] interação é o que faz com que a linguagem seja comunicativa. Esse princípio anula qualquer pressuposto que tenta referendar o estudo de uma língua isolada do ato interlocutivo” (ibid., p.18).
A nova ordem, portanto, é a da interlocução. As disciplinas em diálogo exigirão que a dinâmica da aula proponha a conversação no lugar do monólogo docente. A literatura, nesse contexto renovado, será a ponte dialógica entre professores e alunos, entre a arte e o mundo, entre autores e infindáveis leitores. Os escritores, do alto de sua imortalidade, agradecerão por esse novo tempo, um desejo declarado em poesias e crônicas impressas há décadas sobre uma pedagogia lúdica que valorize a criação e o ato de pensar. Como exemplo, fiquemos com as palavras de Rubem Alves (2011). Antes do seu falecimento, no ano de 2014, o escritor deixou para o futuro um depoimento primoroso sobre a educação, com a qual encarraremos estas reflexões:
Eu estou pensando… há muito tempo… em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia… É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança [a] curiosidade” (2011, transcrição de vídeo).
——————————————————————————————————–
Referências teóricas
ADORNO, Theodor Ludwig Wiesengrund. Notas de literatura I. 34. ed. Tradução: Jorge de Almeida. São Paulo: Duas Cidades, 2003.
BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. Trad. Aurora Fornoni Bernadini et alii. São Paulo: Editora UNESP, 1990.
BARTHES, Roland. Aula. 7ed. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Editora Cultrix, 1997.
BARTHES, Roland. O Prazer do Texto. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 1987. (coleção ELOS)
BOCHNIAK, Regina. Questionar o conhecimento: interdisciplinaridade na escola. São Paulo: Loyola, 1992.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): Ensino médio. Brasília: MEC, 2000.
BRASIL. “Personalidades: Rubem Alves” (entrevista) In: Revista digital. Brasília: Portal Brasil, 08/02/2011 09:19, (vídeo)
CANDIDO, Antonio. “O direito à literatura”. In: Vários Escritos. Rio de Janeiro: Duas cidades, 2004.
CEREJA, William Roberto. Ensino da literatura: uma proposta dialógica para o trabalho com literatura. São Paulo: Atual, 2005.
COMPAGNON, Antoine. Literatura para quê? Trad. Laura Taddei Brandini. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.
COMPAGNON, Antoine. O demônio da Teoria – Literatura e senso comum. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001.
DERRIDA, Jacques. “Estrutura, signo e jogo no discurso das ciências humanas”. In R. Macksey e E. Donato (orgs.) A Controvérsia Estruturalista. São Paulo: Editora Cultrix, 1976.
ECO, Umberto. Obra aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. Tradução Giovanni Cutolo. São Paulo: Perspectiva, 1981 (Col. Debates,4).
ECO, Umberto. Lector in fabula: A cooperação interpretativa nos textos narrativos, trad. Attílio Cancian. São Paulo: Perspectiva, 1986.
ECO, Umberto. Sobre a literatura. Trad. Eliane Junke. Rio de Janeiro: Record, 2003.
ISER, Wolfgang. O ato da leitura: uma teoria do efeito estético. Trad. Johannes Kretschmer. São Paulo: Ed. 34, 1996.
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática, 2001.
LEITE, Lígia Chiappini Moraes. Invasão da catedral: literatura e ensino em debate. 2. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988.
Morin, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo. Trad. Eliane Lisboa. Porto Alegre: Ed. Sulina, 2005.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Trad. Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. 2 ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2000.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Um Discurso sobre as ciências. 2ª edição. São Paulo: Cortez Editora, 2004.
SANTOS, Inês Fonseca. O Modernismo (Vídeo-reportagem). Lisboa: RTP, 2008. Disponível em: <http://ensina.rtp.pt/artigo/o-modernismo>. Acesso em: 15 abr. 2014.
Referências literárias
ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas (Romance). Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1881.
AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. Rio de Janeiro: Garnier, 1890.
CRAVEIRINHA, José. Karingana Ua Karingana. Maputo, Minerva Central: ASDI e Instituto Camões, s.d. 1995 [1974].
[1] A questão encontra paridade com preocupações de Antoine Compagnon sobre a pedagogia literária, reveladas em sua Aula Inaugural (2006), no Collège de France, quando na inauguração da cátedra “Literatura Francesa Moderna e Contemporânea: história, crítica, teoria”, publicada com o título Literatura para quê? (2009). Reflete o teórico sobre: “Quais valores a literatura pode criar e transmitir ao mundo atual? Que lugar deve ser o seu no espaço público? Ela é útil para a vida? Por que defender sua presença na escola?” (COMPAGNON, 2009, p. 20).
[2] O termo interdisciplinaridade, para Regina Bochniak (1992), pode ser entendido como um “processo de co-participação, reciprocidade, mutualidade, diálogo que caracterizam não somente as disciplinas, mas todos os envolvidos no processo educativo”. Já “a transdisciplinaridade é complementar da aproximação disciplinar; ela faz emergir da confrontação das disciplinas novos dados que as articulam entre si e que nos dão uma nova visão da natureza e da realidade” (DOS SANTOS, 1995).
[3] O termo grifado foi tomado de publicações da professora Marisa Lajolo (1982), para quem, quanto mais o leitor for maduro e quanto mais qualidade estética tiver um texto, mais completo será o ato de leitura.
[1] A questão encontra paridade com preocupações de Antoine Compagnon sobre a pedagogia literária, reveladas em sua Aula Inaugural (2006), no Collège de France, quando na inauguração da cátedra “Literatura Francesa Moderna e Contemporânea: história, crítica, teoria”, publicada com o título Literatura para quê? (2009). Reflete o teórico sobre: “Quais valores a literatura pode criar e transmitir ao mundo atual? Que lugar deve ser o seu no espaço público? Ela é útil para a vida? Por que defender sua presença na escola?” (COMPAGNON, 2009, p. 20).[2] O termo interdisciplinaridade, para Regina Bochniak (1992), pode ser entendido como um “processo de co-participação, reciprocidade, mutualidade, diálogo que caracterizam não somente as disciplinas, mas todos os envolvidos no processo educativo”. Já “a transdisciplinaridade é complementar da aproximação disciplinar; ela faz emergir da confrontação das disciplinas novos dados que as articulam entre si e que nos dão uma nova visão da natureza e da realidade” (DOS SANTOS, 1995).
[3] O termo grifado foi tomado de publicações da professora Marisa Lajolo (1982), para quem, quanto mais o leitor for maduro e quanto mais qualidade estética tiver um texto, mais completo será o ato de leitura.
Marcelo Mattos
Doutor em Literatura pela Universidade Federal Fluminense. Coordenador do Ensino Médio.
![]()